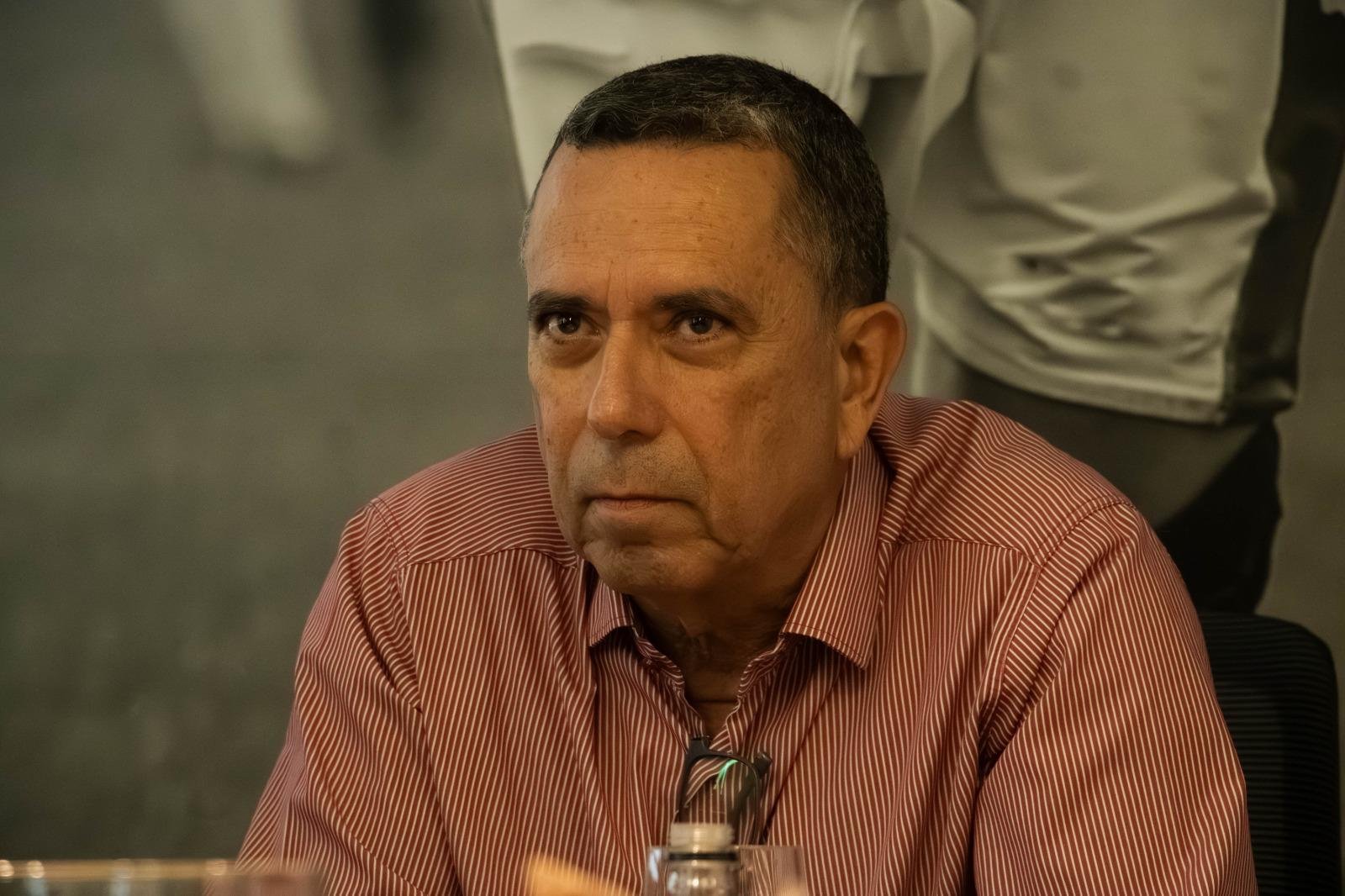O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (22/9) sanções dos EUA contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A medida foi tomada com base na Lei Magnitsky, que permite a Washington punir estrangeiros envolvidos em graves violações de direitos humanos ou corrupção. Além de Viviane, o Lex – Instituto de Estudos Jurídicos, empresa da família, também entrou na lista de sanções.
Motivo das sanções e impacto direto
Segundo o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, Alexandre de Moraes conduz uma “campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados”, incluindo ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração ressalta que os Estados Unidos sancionaram Viviane Barci de Moraes por fornecer apoio material ao ministro enquanto ele estaria violando direitos humanos.
As sanções aplicadas incluem o bloqueio de bens e contas financeiras nos Estados Unidos, além da proibição de entrada no país. A Lei Magnitsky permite essas medidas sem necessidade de processo judicial, utilizando apenas relatórios de organizações internacionais, imprensa ou testemunhos.
O Lex – Instituto de Estudos Jurídicos, mantido por Viviane e pelos três filhos do casal, Gabriela, Alexandre e Giuliana Barci de Moraes, é dono de onze imóveis em São Paulo, com valor declarado total de R$ 12,4 milhões. Viviane também é sócia do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, o que amplia o alcance das sanções ao patrimônio e às atividades empresariais da família.
Contexto político e diplomático
As sanções foram aplicadas durante a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos Estados Unidos, gerando atenção diplomática no país. Interlocutores do governo brasileiro já consideravam a possibilidade de sanções americanas como remota, mas não descartavam totalmente a medida.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) havia citado recentemente que novas sanções poderiam ser aplicadas a autoridades brasileiras ligadas a processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, indicando que a ação de Washington poderia se estender a outras figuras políticas.
Além disso, as sanções destacam a tensão entre decisões judiciais internas e pressões internacionais. No Brasil, o ministro Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras ou sentenças judiciais sem validação pelo sistema judiciário brasileiro, como a Lei Magnitsky, não têm efeito legal no país.
O que é a Lei Magnitsky
Criada em 2012, durante o governo de Barack Obama, a Lei Magnitsky surgiu para punir responsáveis pela morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção estatal e morreu sob custódia em Moscou. Inicialmente voltada para casos específicos na Rússia, a lei teve seu alcance expandido em 2016, permitindo que qualquer pessoa acusada de corrupção ou violações de direitos humanos fosse sancionada globalmente.
Desde então, a legislação tem sido aplicada a diferentes países, incluindo membros do judiciário na Rússia, autoridades da Turquia e de Hong Kong, em casos de perseguição a opositores ou repressão institucionalizada.
As punições incluem o bloqueio de bens, congelamento de contas e restrição de vistos. A lei considera violações graves atos como execuções extrajudiciais, tortura, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias sistemáticas e impedimento do trabalho de jornalistas ou defensores de direitos humanos.
Histórico de aplicação e controvérsias
A primeira aplicação fora da Rússia ocorreu em 2017, durante o governo de Donald Trump, atingindo latino-americanos acusados de corrupção e violações de direitos humanos, como autoridades da Nicarágua, Guatemala e República Dominicana.
No caso brasileiro, William Browder, executivo britânico que liderou a campanha pela aprovação da lei nos EUA, afirmou à BBC que o uso da legislação contra Moraes é uma “deturpação”. Segundo ele, a lei foi criada para punir violações de direitos humanos, e não para intervir em processos judiciais envolvendo ex-políticos.